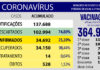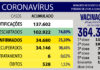O Solar Monjope foi um dos mais belos exemplos da arquitetura neocolonial brasileira, construído sobre a Chácara da Bica, no Rio de Janeiro, do outro lado do Parque Lage (antes Mansão Besanzoni-Lage), esquina da rua Jardim Botânico com Tasso Fragoso. Dr. José Mariano, um obsessivo colecionador, recolheu peças do período e da era colonial para a decoração do imóvel, e com o Solar e outras obras passou a ser conhecido como um amante da arquitetura, historiador e urbanista de grande importância, participando de diversas entidades e instituições e influindo na arquitetura brasileira.
O renomado arquiteto Lúcio Costa detestava o Dr. Mariano, primeiro devido a uma fúria pessoal contra o ecletismo, e segundo a um certo corporativismo, pelo seu desafeto não ser um profissional. Com sua sanha modernista, Costa, um dos gênios de Brasília, autorizou, à frente do Iphan, a derrubada de boa parte dos prédios antigos da av. Rio Branco e casarões da Zona Sul do Rio. Assim, de canetada, fez vista grossa à derrubada do Solar nos anos 1970. Com a construção, foi derrubado também um grande número de árvores frutíferas a frondosas, um patrimônio ambiental urbano. No mesmo lugar, surgiu um conjunto de espigões chamado Condomínio Conjunto Residencial Parque Monjope, símbolo da supremacia modernista contra um patrimônio nacional.
Corte para outra cena 14 anos antes, 1956. Coroando o Planalto Central, a noroeste do Brasil, deu-se início ao ambicioso Plano Piloto do mesmo Lucio Costa. Chamavam candangos (que era como os descendentes de escravos se referiam aos portugueses) os trabalhadores arregimentados principalmente no Nordeste, mas a terra era mesmo dos índios xavantes, caiapós e outras tribos menores. Começava a ser erguida uma grande cidade em forma de avião – símbolo da modernidade e praticamente o único meio de transporte para então lá se chegar a partir da capital.
Pois foi naquele ano que um histórico bimotor DC-3 levou meu pai, já secretário de imprensa de JK, e um grupo de jornalistas e fotógrafos, a pousar na terra vermelha e seca, para conhecerem e divulgarem o grande monumento que estava sendo erguido pelo governo. Fora construída uma pequena casa de madeira, apelidada “Catetinho” (alusão ao Palácio do Catete, no Rio), de onde JK despachava quando visitava o local – aliás, construção precária mas reformada e intacta até hoje. Os jornalistas, mal acomodados, à noite não conseguiram dormir nas redes indígenas reservadas para eles. Foram para o relento, e assim passaram algumas noites até o retorno, o início de uma grande aventura.
Cheios de mimos e suvenires, utensílios indígenas trocados por objetos “civilizados”, o pessoal da imprensa entrou no avião. Ao ver aquele monte de cocares, lanças e flechas, o comandante da aeronave falou que com aquela traquitana ele não voaria. Entre os candangos e o povo da terra, aqueles presentes eram “coisa mandada”, davam urucubaca. E ponto. Foi chamado outro piloto, que inconformado levantou voo, para alegria de todos. Felizes com as lembranças, os viajantes logo tiveram seu primeiro sobressalto: da cabine, o piloto avisou que houve pane em um dos motores (era um bimotor…). Não sei onde pousaram, mas depois de um bom tempo no solo retomaram a viagem, provavelmente em outro aparelho.
No meio do trajeto do voo, nervosa e ansiosa para voltar, a turma resolveu improvisar uma mesinha de pôquer entre os assentos do avião. A tensão aumentou quando dois jogadores tinham certeza absoluta de poder cacifar a aposta, cada um de seu lado, cada um com um grande jogo nas mãos, gritando como loucos como qualquer apostador. Naquela altura, já teria ido no rolo um bom dinheiro. Abertas as cartas, empate! Foi um desentendimento total, que, aliás, já vindo da tensão do pouso forçado, virou briga (não sei se às vias de fato, e não vem muito ao caso).
Finalmente, o DC-3 pousa no Aeroporto Santos Dumont. Todos desconfiaram ao ver uma multidão que cercava a pista de chegada, e uma das jornalistas, se não me engano a Silvia Lara Resende, foi acudida por colegas que informavam, afoitos, que seu “Jornal do Commercio” – tradicionalíssimo e poderoso, na época – estava pegando fogo. Assim, todos salvos e cada um para seu canto, parecia encerrada a aventura.
Ledo engano: meu pai passou a ser atormentado por uma forte insônia e angústia à mercê de uma série de problemas que vinham perturbando-o. Ele nunca me contou mais detalhes, mas eu o imagino como Cervantes envolto em seu imaginário, sentado na sala, quando deu com os olhos naqueles objetos: tacapes, bordunas, arco e flechas e um lindo cesto de palha forrado com lindas penas de pequenos pássaros: umas azuis, outras vermelhas, amarelas, verdes… Presumo que foi então que ele, ainda que descrente e nada supersticioso, pegou aquela parafernália e, de pijama e chinelo, desceu os seis lances de escada, andou um 200 metros em plena madrugada e jogou tudo sobre o muro, no matagal do Solar. Depois do “descarrego”, voltou para casa, tudo agora iria melhorar, pensara com certeza. No dia seguinte, porém, logo correu a notícia: o engenheiro Monjope, o do Solar, havia morrido naquela manhã.
A vida começou a melhorar, seguiu em frente, e em 1960 a Brasília de Lucio Costa e Niemeyer foi inaugurada por JK com grande pompa, sobre a terra vermelha que era dos xavantes e caiapós, talvez assentada sobre alguma enorme, maldita e inamovível mandinga.