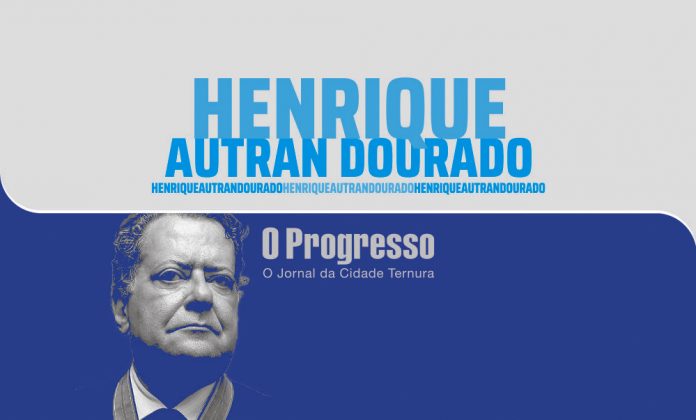
Henrique Autran Dourado
O primeiro confronto da disputa eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden, em 29 de setembro, teve cenas lamentáveis. Mas antes de comentar o debate, em si, não gostei da tradução simultânea por dois jornalistas, uma especialidade sobre a qual ambos, por mais que dominem o inglês, parece não terem expertise. Eu já fiz simultânea na Rádio Cultura FM – e nunca mais -, achei uma loucura, e só depois vim a descobrir que se trata de atividade que pressupõe estritas normas técnicas: uma amiga na Alemanha é tradutora em uma grande rádio – a cada 15 minutos tem de “passar o bastão” (o microfone), a outro profissional. A fadiga perturba a cognição e a fala. Melhor teria sido uma tradução por legendas para quem quisesse, além do áudio original.
Um ponto negativo logo recai sobre o mediador, que nada arbitrou, foi omisso e até conivente com a constante interferência de Trump nas falas do adversário, ao estilo de nossas velhas raposas: não deixar o contendor se expressar. Se Biden foi por demais comedido e retrucava com sorrisos irônicos, Trump parecia um boxeador revirando-se sozinho para monopolizar o ringue. Por vivência própria, acho que tirando os naturais excessos de rua o povo americano é atento a essas questões, e o bipartidarismo local permite mudanças com uma pequena lufada.
O impacto imediato do debate, segundo pesquisa da CNN americana, foi 60% favorável a Biden e 28% a Trump – uma surpresa para o presidente, que já entrou de mau humor e visivelmente transtornado. Seguiu-se o desgaste, segunda palavra do título deste artigo. Trump dirigia bravatas a Biden durante as falas dele e do democrata de forma intermitente, sempre olhando direto para o opositor. Biden, ao contrário, dava estocadas em Trump com voz mais suave e olhando firme para a câmera – os eleitores.
Dia seguinte, 30 de setembro. O conceituado The New York Times não poupou críticas e adjetivos: “Conversa atravessada, mentiras e zombaria”. Ataques virulentos a que Biden respondeu com singeleza: “Isso é tão antipresidencial”. Pior: Trump furtou-se de condenar o grupo supremacista branco Proud Boys (“Garotos Orgulhosos”). Diversas associações e milícias, entre elas a velha Ku Klux Klan, com longo rastro de perseguições e assassinatos de negros americanos, apoiam o candidato. O jornal inglês The Guardian destacou que o Proud Boys teria recebido de Trump o indicativo de “standby”, apelo à milícia para ficar alerta durante a campanha.
Os danos dos impropérios de Trump à sua própria campanha não podem ser negligenciados ou minorados: estamos em tempos de “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”), amplo movimento de resistência antirracista que tomou corpo após o monstruoso assassinato de George Floyd em Minneapolis, quando um policial esmagou-lhe o pescoço com a bota durante mais de oito minutos. Joe Biden marcou presença por videoconferência nos funerais de Floyd em Houston e, com isso, saiu fortalecido diante da comunidade negra e seus simpatizantes, enquanto Trump se reservava a um absoluto recolhimento e expressivo silêncio.
Nos grandes momentos nacionais, o cidadão americano é convicto de suas tradições democráticas e simpático ao tom dos discursos mais sóbrios, embora empolgantes, como o lendário “Gettysburg Address”, de Lincoln, o “I Have a Dream”, de Martin Luther King, Jr, e o do candidato à vaga democrata Jesse Jackson, chegando aos eleitos Carter, Bush, Clinton e Obama. Todos, opções à parte, buscaram demonstrar nos discursos e debates sua capacidade de dirigir a nação com seriedade e foco objetivo. Resumindo, a maioria quer alguém que governe com perfil sereno, sem prescindir da autoridade que é reservada ao homem mais poderoso do mundo: um líder forte, mas controlado.
Trump tem revelado seu lado radical, defensor das desigualdades. No caso do OCA (conhecido como Obamacare, de 2003), proferiu o disparate de que um amplo atendimento à saúde pública seria arriscar o país em uma espécie de socialismo. Saúde é conhecida mazela americana, e o eleitor razoavelmente esclarecido sabe que o maior sistema de saúde pública do mundo, o NHS, foi criado após a Segunda Guerra em um Reino Unido longe de ser “socialista” – termo que Trump usa depreciativamente para quem defende melhorias sociais. O SUS brasileiro foi lançado, à imagem e semelhança do NHS britânico, pela Constituição que restaurou de vez a democracia em nosso país em 1988 – e que ninguém diga, apesar das carências do sistema, que é “coisa de socialista”: foi quase unanimidade.
O megamilionário Trump já entrou na “arena” meio fora de prumo com a revelação, recentíssima, de que ele não recolhera Imposto de Renda por 11 anos, e em tempos mais recentes pífios US$ 750 em um ano, ou seja, R$ 4.200, com o dólar a R$ 5,60, desconto anual similar ao de um professor da nossa rede pública de ensino. Trump tem suas “torres” milionárias, redes de hotéis, clubes de golfe e investimentos mundo afora. Foi um fiasco. Começara, então, a debacle do título deste artigo.
Às 0h23 de 2 de outubro, Trump informa que está com Covid, azedando de vez o caldo. O NY Times ressaltou: “É difícil imaginar que isto não dará fim às esperanças dele para a reeleição, disse Rob Stutzman, um consultor republicano, apontando as ‘zombarias contra as precauções mais óbvias’ do Sr. Trump” (contra a Covid-19). Com previsão de ficar vários dias internado (NYT, 3 out), resta aguardar. Não há informações realmente confiáveis, só contradições. O mundo aguarda.





