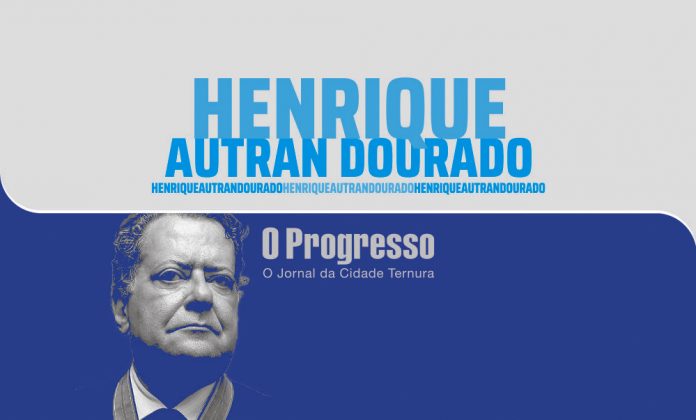
Henrique Autran Dourado
Um ano letivo comprometido para a educação em todos os níveis. Por mais que aulas à distância, ou on-line, possam minorar problemas de disciplinas em classes enormes como muitas da Escola Politécnica da USP (Poli), nunca poderão fazê-lo com matérias que necessitam prática, como as de anatomia e dissecação na medicina, laboratórios químicos, aceleradores de partículas ou prática musical. Uma agravante: já estourando na boca do balão, há uma turma para se formar este ano que deveria ceder lugar à próxima a ingressar. Tentar equilibrar tudo isso diante de uma inexorável nova queda na arrecadação do ICMS em 2021 – tributo responsável pelas universidades estaduais cujos orçamentos, no total, que significam uma fatia de 9,5% do arrecadado -, é como sonhar com um novo milagre da multiplicação dos pães: a se prorrogar os cursos dos que deveriam se formar em 2020, haveria uma leva a mais em todas as áreas das universidades e um colapso orçamentário.
Aqui e ali, ouve-se um zunzum de cara ou coroa girando, cada lado com uma hipótese: na primeira, forma-se a alunada assim mesmo – porque a outra turma que virá em 2021 e não poderá criar uma frustração em cadeia de gerações de vestibulandos. Esta primeira opção implica em simplesmente formar todo mundo, e não há como evitar que a maioria dos alunos saia com preparação incompleta, o que em certas áreas significa grave risco à população, no cotidiano futuro: mais acidentes, desastres, perda de vidas humanas.
A segunda opção, não menos preocupante, é a não abertura de vestibulares para 2021, sem novas turmas no ano letivo, para “esticar” o último ano, com a inevitável decorrente decepção da massa de candidatos, o que não pode ser negligenciado. Contudo, abrir as portas a novas turmas e prorrogar os cursos em finalização é bomba financeira, organizacional e de espaço no colo das universidades.
Em viés extremamente delicado estão o ensino fundamental e médio, quando a presença física do professor é essencial. Trata-se de classes, porém o atendimento por aluno é intermitente, e quanto mais novas essas crianças, mais a presença do mestre é fundamental. (Miremos no exemplo de um pequeno país ao sul do nosso, o Uruguai, que forneceu tablets a 100% dos alunos de suas escolas públicas, fato que nos obriga a reverenciá-los como exemplo administrativo, olhando para nosso próprio umbigo com a necessária submissão. Mesmo assim, a transferência eletrônica de informação, tomando emprestado um poema do Drummond, “seria uma rima, mas não seria uma solução”. Ajuda, mas persiste a enorme lacuna presencial).
Na música, batemos de frente com o impossível. Fora poucas aulas como história da música, que poderiam seguir on-line, há problemas insuperáveis nas práticas e individuais: o maior deles, técnico, é a absurda perda da qualidade de áudio. Se o mundo um dia viu surgir o estridente fonógrafo, e dele uma geringonça de maior pureza, o LP e o HI-FI (alta fidelidade), houve a invasão do mercado pelo MP3, que é um tipo de áudio que se pode gravar ou transmitir em formato comprimido – tome-se como exemplo toda a discografia dos Beatles, que cabe em um único CD.
Depois, surgiu o MP4, formato que traz um vídeo agregado ao som. A fração de espaço da duração de uma mesma música em MP3 em comparação com outra em disco se deve a essa tecnologia surgida em 1993, técnica que comprime – e elimina várias – faixas de frequência, o que significa perdas especialmente nos extremos, os graves e agudos. Pior do que isso, hoje coqueluche da molecada, é o som via “streaming” (de “stream”, correnteza, onda), a transmissão fracionada de sons e imagens, tornando-a ainda mais leve. E pobre.
Na música, esta é apenas uma parte do problema. O pior é a falta da presença do professor, o carisma pessoal, o respirar o mesmo ar, o ouvir a voz do mestre, o interagir olhos nos olhos com o aluno de instrumento ou canto, nada passível de ser transmitido on-line. Em exemplo extremo, lembro-me de ter assistido a master classes com grandes nomes, como o gênio do violino Yehudi Menuhin, para uma classe lotada. A cada participante que tocava, ele o presenteava com suaves e comedidas palavras. Mas com que efeito!
O contrabaixista da Juilliard School David Walter, aos 90 anos, após a execução de um Bach por um aluno fechou os olhos, criando um silêncio sepulcral que fez parte fundamental da cena. E foi somente após ficar calado por meio minuto, após o fim da peça, que ele narrou uma sedutora visão poética da obra, que lhe fora dada pelo lendário violoncelista Pablo Casals. Instado a tocar novamente, o aluno fez emergir com suas mãos naquelas mesmas notas uma outra música, ante participantes e professores embasbacados com a transformação. Coisa que nunca aconteceria por ondas de rádio, fios ou frequências comprimidas. Só quem já lidou com isso é que sabe.
A solução? Não sei, e nem quem saiba. Lembrando a célebre anedota do Chacrinha, o “filósofo” de massas favorito da Tropicália: “Eu não vim para explicar, mas para confundir” (e eu aqui não quero confundir, apenas abrir espaço para reflexão). Nós, educadores, temos por obrigação compreender algo complexo por natureza, mesmo que não consigamos propor alguma solução a contento. Fora isso, é divagar em delírios futuristas alguma tecnologia holográfica por teletransporte com olfato e toque físico no próximo século. Mas a realidade hoje é outra. E dói. Na área federal, as perspectivas são ainda piores. Mas a vida humana vem primeiro.





