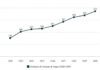(Escrito a partir do meu artigo para a “Veja” de 13 de julho)
Minha posição sobre o projeto que ora corre no Senado Federal (SUG n° 17/2017), que pretende a criminalização do funk, corre fora do escopo de qualquer credo ou ideologia; é técnica, e dentro do contexto social, como convém a um estudioso da música. A “Sugestão” foi feita pelo paulista Marcelo Alonso, “que ninguém sabe quem seja”, talvez candidato a candidato. Só que o cidadão arrastou 22 mil assinaturas de apoio – o suficiente para colocar a “SUG” em pauta na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Alonso considera o gênero musical “um crime de saúde pública desta ‘falsa cultura’ denominada ‘funk’” (sic). Acusa ainda os bailes funk de “recrutar redes sociais” (…) “para atender criminosos, estupradores e crime contra a criança e o menor adolescente” (…) “uso de drogas, agenciamento, orgias e exploração sexual, estupro, pornografia, pedofilia, arruaça, sequestro, roubo e etc.” – sem explicar o que vem a ser esse “etc.”
A reação que mais repercutiu veio da cantora Anitta, hoje em franca ascensão internacional, e dirigida aos seus perto de 5 milhões de seguidores no Twitter. Ela convida “os 22 mil desinformados” que assinaram a petição a conhecerem melhor o seu país. Afirma que o funk é gerador de trabalho e renda, e pede que antes de tudo invistam em Educação. Pondera que se o conteúdo das letras não agrada, é por causa da vida nas periferias, os jovens “cresceram vendo e vivendo aquilo que cantam” – pois há dificuldade de acesso das classes mais pobres a outros assuntos, e que se tivessem tido a oportunidade hoje poderiam estar cantando sobre outras coisas. A cantora também critica a precariedade da saúde pública, além de desafiar se “quem decide nosso futuro fosse obrigado a frequentar uma escola pública sem cursinho particular”. O relator da proposta será o senador Romário, que se diz “carioca e funkeiro”, e é um dos mais assíduos e elogiados representantes do Legislativo. Tenho certeza de que o parecer do ex-jogador será contundente e certeiro. Como seus gols.
Todo brasileiro deveria conhecer, ao menos por alto, a Constituição da República. Nos EUA, é matéria da escola. Um dos pilares de nossa Carta Magna é o direito à livre manifestação. Mais ainda, a Lei Maior é de absoluta clareza especificamente no caso do respeito às manifestações artísticas, frontalmente atingidas pela proposta de criminalização de um gênero, em golpe que se pretende mortal.
Não sou linguista ou historiador, mas por dever de ofício frequentemente a música me lança além da fronteira dos sons. Cabe, por causa disso mesmo, uma breve digressão sobre a censura, cuja origem é a mesma de “cesura”, que em música se traduz como um “corte” em uma melodia: é o ato de suspender, interromper. Igualmente, ela passa por César (lat. “cæsare”, de onde cirurgia “cesariana”). A censura é amarga, e quem passou por ela sabe o que é.
O Brasil sobreviveu aos enormes prejuízos de diversos períodos de censura aguerrida, a exemplo do Estado Novo, com seu DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), sob o comando de Lourival Fontes, à semelhança do Goebbels de Hitler. Também foi o caso do regime de exceção que chegou ao ápice a partir de 1968, com o AI-5. A censura atingiu os intelectuais, escritores, professores, artistas e a imprensa. No período mais negro do regime a espada rondava os artistas, as faculdades, escolas, festivais, e se instalava nas redações dos jornais. Chico Buarque cansou-se de submeter suas músicas ao crivo dos censores, elas passaram a ser invariavelmente proibidas. Chegou a adotar o pseudônimo de Julinho da Adelaide, e com ele conseguiu ver liberadas pérolas como “Acorda, amor / eu tive um pesadelo agora / sonhei que tinha gente lá fora / batendo no portão, que aflição / era a ‘dura’, numa muito escura viatura…”
Na União Soviética de Stalin (1922-1953) imperou o chamado realismo socialista bolchevique, sob o comando de Jdanov, fiel escudeiro e censor-mor do regime. Não buscavam apenas coibir “vícios burgueses”, queriam obrigar todo artista a escrever, compor ou pintar sob a ótica militarista, propagandeando os soviéticos e suas “maravilhas”. O regime obrigou compositores a reverem sua estética, período em que a qualidade da produção musical decaiu acentuadamente. As pinturas tinham jeito de fotografias, já que elas, como arte, não serviam à revolução (leia-se: o poder do Estado).
O que ajuda a manter um regime ou, nesse caso do funk, um “pensamento de exceção”, é a censura da liberdade de que têm medo e não apraz aos falsos profetas por alguma razão obscurantista. Em um filme de Elio Petri (1970), “Investigação Sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita”, o chefe de polícia italiano reúne seus policiais para um discurso que entrou para a história do cinema. Do alto de sua soberba e prepotência, ao final de sua fala exaltada gritou: “Repressione è civiltà” – repressão é civilização! E tome aplausos da claque. Quando assisti ao filme, a ameaça me arrepiou: vi ali, na Itália, o espelho do que acontecia no Brasil. Esse projeto que quer criminalizar o funk também me fez lembrar outro filme, o “Fahrenheit 451”, de 1966, obra do cineasta François Truffaut, sobre o livro de Ray Bradbury. Na fita, bombeiros não apagavam fogo, apenas queimavam armas perigosas com lança-chamas: os livros! (Daí o título: 451 graus Fahrenheit é a temperatura da queima do papel, equivalente a 233 Celsius). Neste ritmo, chegaremos lá.
(Continua na próxima semana)