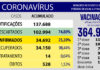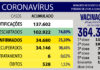Há um velho dilema que persegue os professores de arte, e uma pergunta que nunca terá uma resposta. Penso no artesão, no pintor primitivista e no músico popular de raiz. Arremato o final deste texto com uma sábia resposta para o “ensinar” o que não deve ser aprendido.
Vejamos a pintura primitivista, a que dedico especial apreço. Tenho algumas peças, e entre elas três versando sobre o tema violoncelo, feitas a meu pedido, por dois artistas com um laço em comum: ambos eram porteiros. Um, da Escola Municipal de Música de São Paulo, Henrique Boliani (autor da capa de meu livro “O Arco”), e AD Jonas, porteiro da ECA/USP. O primeiro, intuitivamente, enamorou-se do cubismo e afins, enquanto o segundo mostra qualquer coisa de pop e expressionista. Uma quarta obra é de um jardineiro de Petrópolis, Francisco de Souza, absolutamente surreal, imaginária, em que as proporções entre pessoas – músicos com clarineta, violão e flauta – e a poderosa flora de seus jardins são totalmente distorcidas pela imaginação.
Nenhum estudou. O Boliani eu já havia visto folheando um fascículo desses de banca de jornal, mas os outros dois, Francisco de Souza e AD Jonas, são mais ecléticos. O jardineiro tem seu jeito surrealista e modernista, mas certamente nunca viu um Salvador Dali ou as lindas “desproporções” do Abaporu da Tarsila do Amaral. O que, então, ensinar a esses nossos artistas? Técnicas de desenho, geometria, anatomia? Teríamos aí alguns grandes talentos condenados à vala comum dos artistas infelizes e frustrados. Esse é ponto central da questão, a interferência “erudita” no que já é perfeito por si, o fim da pura ingenuidade (“naïveté”, como se diz em francês) que é mãe da arte que brota das mãos como a semente que germina: naturalmente, sem artificialismos, curtida pela natureza.
A provocação que me trouxe o assunto foi a música. Vi filmes de adolescentes musicistas simplesmente geniais, virtuoses. Quando se trata de prodígios executando Mozart e Paganini, só há um caminho: o estudo bem orientado, a formação completa, a busca por um grande mestre de renome que lhe passe o caminho das pedras rumo aos degraus da perfeição (“gradus ad parnassum”). O artista prodígio, mas depois de explodir muito jovem, tem de compreender que o caminho rumo ao seu destino será longo, e deverá ser trilhado sem atalhos, independentemente da exuberância técnica que demonstrava quando criança. Esse o caso de Yehudi Menuhin, gênio violinista, que já chamava atenção aos cinco anos de idade. Aos 12 anos, já tocava os pirotécnicos “Caprichos” de Paganini, não muito diferente de Arthur Rubinstein, um dos maiores pianistas da história, iniciado já aos três anos de idade. Exemplos mais modernos foram a jovem musa de Von Karajan, a violinista Anne-Sophie Mutter, levada pelo maestro a solar com a Filarmônica de Berlim aos 13 anos de idade, e mais recente ainda o fenômeno Lang-Lang, que aos dois anos se apaixonou pelo piano e aos três começou seus estudos; com cinco, apenas, venceu o Shenyang Piano Competition, concurso nacional da China. Com o tempo, o amadurecimento fez seu fogo de virtuose infantil conhecer uma interpretação mais estudada, mais cautelosa, sem perder a exuberância natural.
Agora, sem traçar uma linha divisória entre o primitivismo e o estudado, o que acontece quando uma criança é um prodígio em viola caipira, sanfona, rabeca? Mostra-se exímia desde cedo nessa arte, tão pura, parte do verdadeiro folclore, de nossas raízes, arrimo sem o qual nossa arte, mesmo a mais moderna, passa a perder o sentido? Ensinar-lhe técnica de violão, dedilhados, postura “correta”, leitura, métodos, solfejo, harmonia? Se for por opção dela, seguir uma carreira diversa, que lhe fique ao livre-arbítrio, e somente dela, será uma escolha pessoal. Mas a interferência externa pode ser daninha. Há muitos anos, um certo compositor brasileiro de formação clássica, “maestro” como tantos por aí e enfronhado na MPB com ares de irreverência erudita, inseminou na música sertaneja pura dos que foram trabalhar nas construções de São Paulo outras influências – que logo passaram a ser o principal, deixando a raiz original, por sua vez, passar ser a simples influência. Foi o início do pior. Para fazer sucesso na hora, aproximou-os da Jovem Guarda: óculos escuros, costeletas, anéis, roupas modernosas e “carrões”, mudando os temas de porteiras de fazenda para os carangos de então, como o hoje raro Karmann Ghia. Assim, começou a deturpação, em detrimento das origens dos próprios artistas – que, claro, acharam muito mais interessante largar a construção e receber dinheiro com as breguices que lhes impunham os produtores do que preocuparem-se com sua arte.
Sou fã do cururu, desafio do Médio Tietê, que desde a época das missões uniu coisas indígenas e influências musicais portuguesas à religião dos missionários. Criamos no Conservatório de Tatuí um torneio de cururu anual que repercute em toda a região, abrigamos a festa, estimulamos a prática, festejamos com eles e aplaudimos os riquíssimos improvisos e os acirrados desafios. Porém, nunca devemos “ensiná-los” nada, pois o mestre deles é a tradição, de avô para pai, de pai para filho, cujo aprendizado se dá na prática, olhando, ouvindo, experimentando. Ensinar-lhes prosódia, rima, harmonia, forma, técnica vocal… seria condenar à morte uma tradição tão brasileira. Nesse ponto, minha opinião é de respeito a Noel Rosa: “O samba é um privilégio / ninguém aprende samba no colégio…”