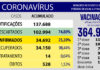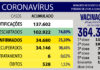Autodestruição pelo desespero
Sempre recorro a um curioso fato real do passado para compreender certas situações na vida. Aconteceu assim: ao chegar em Boston, para estudar, morei primeiramente em uma das cidadezinhas do entorno, chamado Nova Inglaterra, todas com nome de pequenos burgos ingleses. O local, aprazível, jeito de cidadezinha inglesa, chama-se Brighton. Porém, como o inquilino que me cedera temporariamente o espaço retornaria de uma viagem, aproveitei mudar-me para o centro, mais precisamente para a rua do New England Conservatory, onde passei a estudar. Longe da tranquilidade de Brighton, o nada bucólico centro.
Como tinha que viver com ralos dólares por mês e o dinheiro me obrigava a uma vida franciscana até que pudesse me colocar no mercado de trabalho, aluguei um apartamento em um prédio central bem antigo, coisa de uns 30 m2. Típica construção inglesa, bem antiga, tijolos aparentes, janelas protundidas (“bay windows”), prédio de quatro andares como todos os demais ao longo dos dois lados da rua Gainsborough, atrás do Symphony Hall, casa da Sinfônica de Boston.
Ratos e camundongos infestam as grandes cidades americanas, chegam a 25% das pessoas em NY (em Boston a cifra é parecida). Ratos, os temíveis “rats”, chegam a ser enormes e asquerosos. Já os segundos, os camundongos, são muito bem tolerados, há que se conviver com eles: os “mice” (plural de “mouse”), não tão simpáticos quanto o Mickey e a Minnie, são nojentinhos e ariscos.
Os muitos meses de frio, as paredes ocas com lã de vidro ou outro material “aconchegante” e ideal para armar ninhos e colônias, tudo convida os pequenos roedores a se instalarem em todos os lugares dos prédios e casas, em uma quantidade que desafiaria qualquer censo do mundo.
O episódio que vou narrar aconteceu logo na primeira noite no apartamento em que, mal acomodado entre um colchonete sobre caixas de leite, meu instrumento, “meus discos e livros e nada mais”, como diria o saudoso Zé Rodrix, bom de música e de papo, vi-me às voltas com um acontecimento realmente inusitado: não conseguia dormir, por conta de uma interminável sequência de ruídos estranhos, um “allegro ma non troppo” percussivo e cadenciado, um flip-flop-pof, flip-flop-pof, em “longa jornada noite adentro”, parafraseando o título da peça do dramaturgo O’ Neal (morto na mesma Boston no ano em que nasci!).
Lá pelas tantas, o barulho ainda me perseguia, e necas de dormir: flip-flop-pof, flip-flop-pof, flip-flop-pof, só que agora com um gradual “ritardando”, mais e mais lento, o movimento cadenciado havia perdido a dinâmica, o volume e o ritmo. Assim que começou a clarear, já desistido do sono, levantei-me para fazer café, e aquele flip-flop-pof havia se transformado em um “largo” musical, andamento ainda bem mais lento: flip-plof-pof, repetido agora com muito pouco vigor, até esmaecer, “smorzando”, diria um compositor, para, enfim, cessar.
De manhã, após fazer o café, ao jogar o filtro de papel no latão de lixo da cozinha, vi que lá dentro estava um pequeno rato, que havia caído e tentara escapar da arapuca das paredes altas da lata a noite inteira. Estirado e mortinho da silva (daí o irritante flip-flop-pof: foram incontáveis saltos no desespero!). A luta para tentar sair, debater-se em esforço desesperado, saltar insanamente para, em esforço inútil, galgar a imensa muralha do latão de lixo.
Fiquei um pouco chocado, e a cena me levou a algumas reflexões: o que realmente se passara? Não matei o rato, não o envenenei, não tinha ratoeira, sequer sabia que havia um rato preso na lata de lixo. De fome também não foi, pois havia alguns restos na lata e ele sobreviveria com facilidade até ser encontrado – ou, tarefa impossível, fugir. Mas como morreu? Foi mal súbito? Em um jovem roedor? (Com o bichinho já defunto, referia-me a ele quase como velho amigo da casa). Pois se não foi de morte matada ou morrida, como disse o João Cabral, o que foi?
Demorou muito para elaborar essa “teoria”, ou essa “alegoria” à avessas. (A alegoria é uma narrativa imaginária para lançar a ideia de outro fato, mas a história do rato era real como nunca, daí esse “às avessas”, do real ao imaginário. Já a teoria é um princípio básico artístico ou científico já posto à prova). Como autor sem pretensões literárias, filosóficas e muito menos psicanalíticas, tomo a palavra teoria emprestada e guardo o acontecimento misterioso como uma pequena e recorrente reflexão que ressurge, em certas situações. Atualmente, creio que presenciamos uma delas.
O rato morreu de desespero, desgosto, o brutal insucesso nas suas tentativas de escapar de um final longo, mas iminente. A cada salto, o cansaço lhe diminuía chances. Hoje, diante de situações que evocam certa similaridade com a breve história bostoniana – desta vez, sim, fazendo dela uma alegoria (“a história se repete, da segunda vez como farsa”, disse o velho pensador alemão) – lembro-me do “rato de Boston”, sem querer que ninguém morra de verdade, claro! Serve para observar meu autocontrole, fazer correções de rumo e para analisar atitudes desesperadas e nem sempre explicáveis de pessoas que já encontramos ou haveremos de encontrar ao longo da vida e de nossa história, tropeçando e caindo nas pedras que elas próprias jogaram em seu caminho.