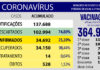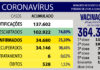“Hiroshima, Mon Amour” é um filme de 1959 dirigido pelo cineasta francês Alain Resnais, com roteiro da escritora franco-vietnamita Marguerite Duras. Em japonês, o subtítulo completa o sentido da obra-prima: “Um Caso de 24 horas”. Foi o grande marco da “Nouvelle Vague” francesa, movimento que inspirou o Cinema Novo brasileiro de Glauber Rocha, Cacá Diegues e Joaquim Pedro. A trama aborda uma neurótica relação de um dia e meio entre “Ela”, uma atriz francesa (Emmanuelle Riva), e “Ele”, arquiteto japonês (Eiji Okada). São intensas conversações, diálogos plenos de cortes para inserções de cenas tenebrosas, que levam o público a quase suspender a respiração. Resnais haveria de repetir essa técnica cinematográfica de inserir fatos passados ao menos mais uma vez, em “O Ano Passado em Marienbad” (1961). Essas alternâncias entre um estranho caso de amor imaginário e trechos reais de documentários sobre os efeitos da bomba lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945 chegavam a provocar náusea, como na cena em que uma mulher, em frente ao espelho, passa a mão nos cabelos, e esses lhe caíam aos tufos, efeito pós-hecatombe nuclear.
Os diálogos entre Ele e Ela costuram as cenas românticas com tensão. Ele, cuja família sucumbira no dia fatídico, dizia que Ela ignorava tudo, não sabia nada, enquanto Ela murmurava, separando as sílabas: “Hi-ro-shi-ma”. No passado, por ter tido um caso com um soldado alemão na França, Ela havia sido execrada e teve a cabeça raspada como punição, fato que remete à cena real da vítima com os cabelos em queda. Contratado para fazer um breve documentário, Resnais, “enfant térrible”, exigiu, sem esperar êxito, que o roteiro fosse escrito por Duras e as cenas fossem gravadas na França e no Japão. A produção franco-nipônica aceitou as exigências do cineasta, e o deixou livre para criar com a roteirista. O cinema começaria, a partir daí, a trilhar novos rumos. O ícone Jean-Luc Goddard disse que o filme parecia um diálogo entre Faulkner (escritor) e Stravinsky (compositor). O alemão Eric Rohmer vaticinou que “em coisa de 30 anos saberemos que ‘Hiroshima’ foi o filme mais importante feito após a 2ª Guerra”. O grande François Truffaut disse que, depois de “Hiroshima”, era impossível fazer cinema como antes. (Existe uma versão completa na Internet, com tradução em espanhol).
Enola Gay era mãe do piloto cel. Paul Tibbets, que aprovou a “superfortaleza voadora” na fábrica da Boeing, e, com o nome materno, batizou o B-29. Para quem viu, como eu, o Enola em exposição, pode ter vivido a mesma sensação de quando subi, em 2006, ao segundo andar do prédio vizinho às Torres Gêmeas de NY, único lugar então permitido para observar a “terra arrasada”: silêncio e medo avassaladores, um vazio dilacerador no coração. O Enola Gay era um monstro quadrimotor de 30 metros de comprimento e 44 metros de “wingspan” (amplitude da asa, de uma ponta à outra). Foi essa máquina enorme e lerda (alcançava meros 355 km/h), que carregou a “Little Boy” – “Garotinho”, nome irônico para a mais poderosa arma de destruição em massa jamais feita pelo homem.
O Manhattan Project (no início, o QG da “intelligentsia” ficava na ilha, na Broadway St., NY), foi um plano norte-americano apoiado pelo Reino Unido e Canadá. O secretíssimo trabalho diuturno de cientistas comandados pelo físico J. R. Oppenheimer chegou a empregar 130 mil pessoas, quase todas sem a menor noção de onde a pesquisa deveria chegar. Einstein foi grande entusiasta dos experimentos com a reação nuclear em cadeia, e enviou uma carta que chegou às mãos do presidente americano Roosevelt mostrando o potencial de letalidade do urânio 235 em armas nucleares. Depois, declarou: “Eu sempre condenei o uso da bomba contra o Japão” (EINSTEIN, Albert. “Einstein on Peace”. NY: Nathan & Norden ed., 1960). Depoimento em verdade muito questionado, aliás.
“Little Boy” parecia uma bomba comum: 4,4 T e apenas três metros de comprimento. A explosão emitiu raios-x pelo contato com o ar aquecido a até 6.000o C (temperatura comparável à da superfície do sol), em velocidade maior do que a do som, uma “bola de fogo”, cuja luz poderia cegar. Vinte minutos depois, a tempestade incandescente. No total, podem ter sido 166 mil as vítimas do ataque, incluindo as 6.000 que escaparam, mas morreram depois por graves sequelas. Em 7 de maio, os nazistas já haviam se rendido aos aliados; no dia 9 de agosto, Nagasaki foi bombardeada por outro artefato nuclear; dia 15, pouco após os massacres de Hiroshima e Nagasaki, e ante a declaração de guerra pela União Soviética, o Japão, acossado, se entrega. Essa rápida sequência encerrou a 2ª Guerra, o maior conflito mundial da história.
Vinicius de Moraes, que conseguia extrair beleza até do sofrimento e da infelicidade, nos deixou uma pérola de poema, “Rosa de Hiroshima”: “Pensem nas crianças / mudas telepáticas / pensem nas meninas / cegas inexatas / pensem nas mulheres / rotas alteradas / pensem nas feridas / como rosas cálidas / mas, oh, não se esqueçam / da rosa da rosa / da rosa de Hiroshima / a rosa hereditária / a rosa radioativa / estúpida e inválida / a rosa com cirrose / a anti-rosa atômica / sem cor sem perfume / sem rosa, sem nada”. Rosa é uma senhora nefasta que acaba de completar 70 anos, e se é desagradável lembrá-la, também não pode ser esquecida. É uma tatuagem invisível que carregam todos os homens e mulheres, alerta de que um dia a humanidade poderá, ela mesma, abrir as portas do Juízo Final.