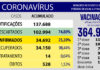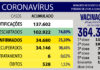A festa do Carnaval sempre esteve associada a uma manifestação de desabafo e de esperança. Associada, no hemisfério norte, ao fim do inverno, início da primavera, tempo de semeadura, um trabalho danado, um sofrimento daqueles e então tinha a festa para comemorar, lembrar juntos e torcer juntos, pedindo para a terra que seja boa e dê frutos e que o clima seja bom e seja ameno e conforte os corpos exaustos.
Praticamente todas as sociedades tiveram festas desse jeito. Na Idade Média, ao duro trabalho rural somavam-se as rígidas interdições da igreja. Vivemos o início da quaresma, longo período de jejuns e orações para os católicos. Por que então não se preparar para essa provação cantando, dançando e comendo e bebendo a valer?
O Carnaval marcou, ao longo dos séculos, um momento de quebra de regras, de limites, de identidades. Na confusão das ruas, não havia rico nem pobre, homem ou mulher, religioso ou pagão. A tradição das máscaras, ainda tão presente, servia para impedir que se soubesse quem era quem nas vielas escuras das cidades europeias.
No Brasil não foi diferente. A festa trazida para cá – ainda no período colonial – pelos portugueses, o entrudo, enchia as ruas com gritos, danças e muita alegria. Da janela, as moças suspendiam por alguns dias o recato e jogavam água ou farinha nos passantes. Ninguém era de ninguém e a imagem da autoridade virava do avesso com as fantasias irônicas e exageradas, os gestos ousados. A integridade não era garantida e os excessos eram comuns. Como observou o comerciante inglês John Luccock em seu livro “Notas sobre o Rio de Janeiro”, publicado em 1829: “Já se observou muitas vezes que uma comunidade se retrata tão bem por meio de seus divertimentos como por meio de suas maneiras de pensar e agir sério”. Assim era o Brasil. E como isso incomodava! Por isso, por volta de 1840, a elite carioca – a capital do Império – resolve dar um basta e proíbe o entrudo. Carnaval tinha de ser controlado, uma coisa civilizada. A polícia cumpriu à risca as ordens e os foliões foram rebatizados de “vagabundos e desordeiros”. No lugar das festas populares, surgem os bailes, nos palacetes protegidos e, depois, nos clubes com segurança na entrada. E isso dura um bom tempo. Mais pro fim do século, no entanto, a criatividade brasileira resolve o problema das proibições, criando os cordões carnavalescos, que copiavam o modelo das procissões religiosas. Como proibir? Não dava. E, de novo, o Carnaval voltou para as ruas.
No período Vargas, o populista gaúcho buscou normalizar os blocos de Carnaval que cresciam a cada ano e criou os desfiles das escolas de samba, com as agremiações se apresentando na avenida, cantando sambas-enredo que, obrigatoriamente, precisavam tratar da história do Brasil, de maneira elogiosa, é claro.
E assim, nas últimas décadas, o Carnaval tornou-se um fenômeno turístico de grandes proporções, particularmente no Rio de Janeiro. Mas nunca deixou de ser uma manifestação da alma popular, embora camuflado sob grossas camadas de maquiagem.
Até que, no último domingo e segunda-feira, algumas escolas de samba romperam de novo com a previsibilidade e colocaram na passarela a irreverência, a crítica, o desabafo, invertendo os papeis, assumindo o protagonismo do discurso e gritando: Monstros! Ladrões! Corruptos! – tudo isso ao som das baterias e o aplauso dos espectadores.
O antropólogo Roberto da Matta, autor do livro “Carnavais, Malandros e Heróis” (1979), disse: “Se o Carnaval tem algum sentido, ele está numa estética da igualdade que apresenta o corpo pobre, mas harmonioso e belo; e a massa, que deveria se revoltar, envolta em fantasias e contando, na forma de um samba, histórias impossíveis”. O Carnaval é riso, engano e mentira.
E também verdades. Muitas verdades.
* Doutor em educação histórica, é professor no Curso Positivo, de Curitiba